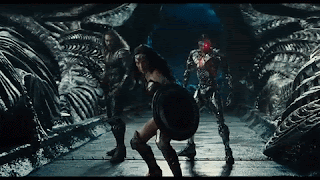Poucos
devem conhecê-lo, mas o nome Yorgos Lanthimos já é realidade na indústria
cinematográfica. Conhecido por realizar filmes um tanto quanto estranhos, como
‘Alpes’, ‘Dente Canino’ e o mais recente ‘O Lagosta’ (indicado a melhor roteiro
original no Oscar 2015). O cineasta vem provando sua autoria e talento a cada
novo projeto e, o perturbador e psicológico ‘O Sacrifício do Cervo Sagrado’ é mais
uma confirmação de seu cinema particular.
Tela
escura. Som de um coro. Os batimentos cardíacos surgem em tela. Uma cirurgia
está a ser executada e, no fim, o cardiologista Steven Murphy (Collin Farrel)
retira as luvas ensangüentadas e as jogam na lixeira. A cena inicial do filme
simboliza a verdadeira identidade repressiva do personagem e isso, é apenas o
inicio do metafórico e reflexivo ‘O Sacrifício do Cervo Sagrado’.
Sem
êxito na tal cirurgia, o cardiologista Murphy, acaba se afeiçoando ao filho do
paciente Martin (Barry Keoghan), a ponto de dar a ele presentes e decide
integrá-lo a sua família, composta pela sua esposa Anna (Nicole Kidman) e seus
dois filhos. Entretanto, quando o jovem deixa de receber a devida atenção do
médico, suas ações se tornam cada vez mais sinistras implicando na vida pessoal
de Steven.
Com
o roteiro assinado pelo próprio Lanthimos em parceria com Efthymis Filippou, ‘O Sacrifício do Cervo Sagrado’ demora a imprimir sua premissa. O
primeiro ato fortalece a interação de todos os personagens, principalmente de
Martin em relação à família Murphy. Diante desse convívio, a narrativa pauta-se
nas relações sociais, intencionalmente, como objetivo, superficial e robótica.
Por esse motivo, a estranheza perpetua ao longo de toda a produção, seja na
maneira figurativa do casal fazer sexo, como também nos diálogos
constrangedores, inapropriados, inesperados e metafóricos.
Após
os quarenta minutos, a trama impõe seus princípios e passa ficar mais
interessante pela figura curiosa de Martin. Nesse contexto, a direção de
Lanthimos repete alguns de seus recursos utilizados em seus antigos trabalhos.
As interpretações são propositalmente robóticas, desprovidas de emoção; a artificialidade
da natureza do amor é vitalícia, e os seus enquadramentos não convencionais –
contra-plongée, travelling shots e planos detalhes -, reforçam a aura do mistério
pungente.
 Desencadeando assim, impaciência do pai,
histerias na mãe e uma forte compulsão psicológica surreal vivenciada pelas
duas crianças. Tudo é muito misterioso, inexplicável e ficamos lá. Presos. Até
o fim desse sonho factual. Lembrando, O Sacrifício do Cervo Sagrado’ não
procura dar respostas, e sim questionamentos. Saímos do filme com dúvidas na
cabeça e, isso não deve agradar uma parcela do público, muito pelo fato dele se
aproximar de um terror-psicológico.
Desencadeando assim, impaciência do pai,
histerias na mãe e uma forte compulsão psicológica surreal vivenciada pelas
duas crianças. Tudo é muito misterioso, inexplicável e ficamos lá. Presos. Até
o fim desse sonho factual. Lembrando, O Sacrifício do Cervo Sagrado’ não
procura dar respostas, e sim questionamentos. Saímos do filme com dúvidas na
cabeça e, isso não deve agradar uma parcela do público, muito pelo fato dele se
aproximar de um terror-psicológico.
Com
atuações impecáveis de todo o elenco, com destaque maior a Barry Keoghan
entregando um psicopata minimalista. Collin Farrel assemelha muito sua
interpretação em ‘O Lagosta’ e, vale ressaltar novamente a promissora atriz
Raffey Cassidy (conhecida pela ótima interpretação em ‘Tomorrowland’), na pele
da filhas de Steven Murphy.
Perturbador,
inerente e de um poder metafórico incrível, ‘O Sacrifício do Cervo Sagrado’
certamente é um dos melhores filmes do gênero terror-psicológico e vem como uma
das gratas surpresas do ano.
NOTA: 8,9